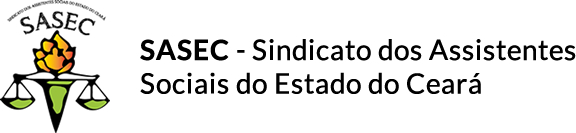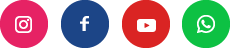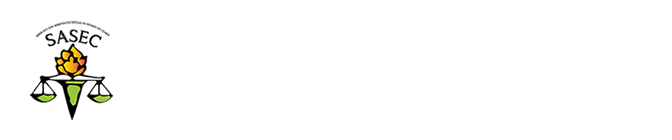Qualquer que seja a forma, o método e o objetivo do golpe de Estado, ele é, sempre, o mais contundente dos instrumentos de negação da soberania popular. É o expediente de que a classe dominante lança mão quando seus freios e filtros institucionais – eleições censitárias, intervenção do poder econômico, controle dos meios de comunicação de massa e propaganda política, sistema partidário, fraude eleitoral, coerção judicial-policial etc. – se mostram insuficientes para manter o povo afastado do poder.
Golpe de mão, dependente seu sucesso da ação rápida, faz frequente o emprego do aparato repressivo (exército, polícias, guardas palacianas, organizações variáveis de país a país) e dele sempre depende para a conservação do poder. Mas pode operar dentro da institucionalidade, como em Honduras (2009), quando o presidente Manuel Zelaya teve seu mandato cassado pelo judiciário, no Paraguai com a cassação do mandato do presidente Fernando Lugo pelo Congresso (2012), e, de último (2016), a deposição de Dilma Rousseff.
Antes, na mesma linha, tivemos o impedimento do presidente João Café Filho (1955), decretado por Resolução da Câmara dos Deputados. Em todos os casos, sempre visando a alterar a composição do poder, à margem da audiência da soberania popular.
O golpe opera dentro do Estado, embora contra o governo (exemplo: Chile, 1973) e seu objetivo é, em regra, restabelecer o statu quo ante de dominação de classe; há, porém, hipóteses de simples conflitos interclasse, entre setores da classe dominante (Brasil, 1955). Quando as forças internas não são suficientes para alterar a ordem, as oligarquias lançam mão da intervenção direta das tropas dos EUA (Granada, 1983; Panamá, 1989). A intervenção golpista, tendo às suas ilhargas ampla aliança de interesses – internos e externos – pode requerer a preparação da opinião pública (Brasil, 1964), a encargo dos aparelhos ideológicos do Estado, dentre os quais se destacam os meios de comunicação de massa, de um modo geral, e, mais recentemente, entre nós, o trabalho daninho de grupos religiosos conservadores. Em alguns casos vale-se de rituais homologatórios pelo Congresso (quando mantido aberto), pelo poder judiciário, ou pelas autoridades eleitorais.
Vários desses ingredientes (aos quais se soma a intervenção facciosa da OEA, sob liderança lamentável, e a ingerência do governo brasileiro), estiveram presentes no golpe de Estado que em 2019 fraturou a nascente democracia boliviana, fez letra morta o veredito das eleições e apeou do governo o presidente Evo Morales.
Golpe previsível, que, no entanto, nos colheu de surpresa, como nos surpreendera a deposição de Dilma Rousseff, em 2016. Ou sejam, negando-nos a enxergar as evidências.
Na Bolívia pré-golpe se desenvolvia, com sucesso, inovadora experiência de construção de um Estado multiétnico, no qual – eis o âmago do desafio – os povos originários (à frente dos quais estava um indígena, eleito e reeleito pela maioria da população), tinham predomínio sobre os interesses da minoria branca governante e mandona até aquela altura. Tratava-se (e volta a tratar-se), portanto, de experiência muito perigosa se prosperasse, ou seja, constituía um “mau exemplo” para o resto do continente, como perigosos foram em seu tempo os exemplos oferecidos pelo Chile de Allende, a possibilidade de um socialismo ungido pelas vias ditadas pela burguesia, ou seja, pelas regras da sua (dela) democracia representativa, ou ainda pelo lulismo, que intentou uma conciliação de classes associada à proteção dos mais pobres.
A continuidade do projeto fundado na pluralidade étnica cobrava, portanto, uma sorte de apoio para além da ordem institucional clássica, ditada pela classe dominante, e não era razoável supor que ela se conservaria indiferente às ameaças concretas de restrições ao seu poder centenário que intentava preservar mediante os mais diversos meios, inclusive valendo-se da influência ideológica que conservava no governo, em sua burocracia civil e militar.
A derrota de Evo pode ter ensinado aos nativos a necessidade de união (a diversidade étnica no país andino era até aqui conhecida como obstáculo ao avanço político), lição primária que os brasileiros ainda não conseguiram colher. Enquanto há quatro anos permanecemos atônitos e longe de qualquer ação concertada entre as forças populares e progressistas, na Bolívia, em um ano, sob repressão feroz e mortífera, foi possível a reorganização popular e a retomada do poder. E será retomado, possivelmente, o programa interrompido pelo golpe.
No quadro atual, a consagração do MAS (Movimento al Socialismo)-IPSP (Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos – IPSP, assembleia de organizações camponesas em que Evo tem origem) adquire significado que, quero crer, transcende os limites do pronunciamento eleitoral estrito senso. Daí a esperança de um bom caminhar para os próximos anos. Pela expressão de vontade que encerra, estamos diante do que podemos chamar de pronunciamento direto da soberania popular boliviana (e eis seu ponto mais significativo), o que, portanto, vai bem além dos limites exigidos pelas regras gerais da democracia representativa, e esse caráter precisará ser observado, respeitado e aprofundado pelo novo governo e suas lideranças. Pois ele será o único antídoto de que poderá lançar mão na eventualidade, esperável, de nova investida da direita.
De outra parte, o governo por instalar-se não terá alternativas fora do avanço político, que exigirá competência para manter-se atento às demandas, doravante crescentes, da grande massa vitoriosa, consciente de seu papel como sujeito de uma quase-revolução nacional popular, anti-golpista. O conflito étnico é a forma como ali se manifesta a luta de classes, e Luís Arce, como Evo Morales (cujo papel na nova ordem ainda é desconhecido), dele não é árbitro, mas parte, porta-voz e instrumento da resistência indígena. Não lhe restará alternativa senão continuar investindo na organização popular e no enfrentando dos enclaves fascistas, seja a direita de Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra (parte da qual se vê como brasileira), sejam aqueles setores da burocracia e das forças de segurança minados pelo discurso fascista.
Sem ilusões extemporâneas, é possível ver que o continente de uma forma ou de outra vai dando sinais de resistência. A direita foi apeada do poder na Argentina, a esquerda volta a governar a Bolívia, e as mobilizações sociais retomam as ruas de Santiago. Mesmo perdendo as eleições no Uruguai, após haver dominado o primeiro turno, a Frente Ampla mantém seu protagonismo.
Enquanto os governos de Argentina e México cumprimentam Luís Arce por sua vitória, o arremedo de chanceler brasileiro – um dos primeiros a aplaudir o golpe contra Evo – se acha nos EUA, recebendo de seus mestres instruções sobre como “solucionar” o problema venezuelano. O capitão, em solenidade no Itamaraty, faz apologia da reeleição de seu mentor. Triste retrato de um país cuja diplomacia já inspirou respeito.
Que lições podemos extrair?
Antes de tudo, voltar a acreditar na força revolucionária do povo organizado e tentar ajudá-lo nessa organização; não nos preocuparmos com a atual crise de lideranças, nem ficar esperando pelo “salvador da pátria”: o movimento produzirá seus líderes condutores; desprezar as soluções “pelo alto”, a falsa tentativa de encurtar o processo histórico; desfazer-se das ilusões da conciliação de classes.
Não subestimar o adversário, mas não temê-lo, e não supor que a reconquista política será uma dádiva que os céus nos reservam para 2022: ao contrário, é preciso construir 2022. Na política, como na história, não há almoço grátis.
FONTE: CARTA CAPITAL
FOTO: RONALDO SCHEMIDT / AFP