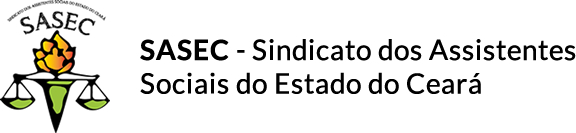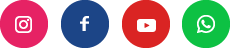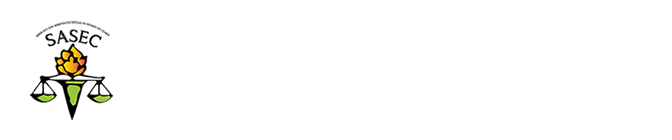Mais do que frequente, a condição de ilegalidade do cidadão é fruto da incapacidade do Estado em lhe estender cidadania
A cidadania na cidade inteligente é matéria complexa. Recente evento corporativo para o setor público promovido por uma multinacional de tecnologia definiu o cidadão como um consumidor de serviços. Um dos responsáveis por esse argumento é o economista Albert O. Hirschman. Em 1970, Hirschman publicou estudos relacionando à fidelidade de pessoas a empresas e a governos com a capacidade de escuta dessas organizações.
De acordo com Hirschman, não atentar às necessidades de seu público fará com que ele procure alternativas: a competição no caso de firmas e a oposição no caso de governos. Segundo o autor, escutar seu público e levar em conta suas considerações garantiria a qualidade no serviço prestado o que, por sua vez, criaria lealdade para com a organização ofertante. Por trás desse estudo está a ideia de que um governo e uma firma possam, em certa medida, funcionar da mesma maneira. Ainda que isso seja em parte possível, tal fato não torna o cidadão um consumidor, muito pelo contrário.
Vejamos, se um bem público fosse um bem de consumo, ele poderia ter seu acesso controlado pelo preço, regulado por oferta e demanda. Bens públicos são públicos justamente porque são bens não rivais e não possuem paralelo de possibilidade de oferta, ou são essenciais e seu provisionamento em quantidade, qualidade e tempo hábil desafiam a lógica empresarial e de mercado.
Ou seja, são casos em que suas empresas ou são economicamente inadimplentes ou incorrem em monopólio ou cartel, sendo essas últimas condições em que ocorre desequilíbrio de poder político e econômico na sociedade. Educação, habitação, saneamento, saúde universais são casos em que o regime de preços não opera como mecanismo eficiente de regulação de oferta e acesso, daí a presença do setor público.
Amartya Sen, Nobel de economia (1998) explica que bens e serviços essenciais se impõe dentro da cadeia de valores desafiando a formação de preços e de mercados. Se é essencial e prioritário, não tem preço. Simples assim. Logo, a princípio, inferir lucro em uma operação dessas implica em limitar a oferta com consequências fatais.
Em saneamento, por exemplo, limitar sua oferta implica em incremento de doenças e aumento de custos com saúde pública. E a alternativa, não gastar com isso, é a morte. Portanto, não se trata de condições normais de mercado, mas de investimento social, de sua obrigatoriedade. Isso posto, é natural perguntar se não seria necessário garantir o direito de cidadania antes do de consumo?
Ainda, ao se falar de bens e serviços públicos, será que consumo é a palavra adequada? Uma praia limpa é um direito de consumo, ou é um direito de usufruto? Será um direito de consumo se concordarmos que o acesso a um bem público – à praia, por exemplo – é restrito àqueles que possam arcar com o estabelecimento de uma relação satisfatória com o Estado, pagar impostos, verbi gratia.
Mais do que frequente, a condição de ilegalidade do cidadão é fruto da incapacidade do Estado em lhe estender cidadania e não fruto da incapacidade do cidadão em cumprir seus deveres constitucionais
É importante ter em mente que o cidadão não é – e jamais será – um consumidor, mas, sim, um beneficiário. Bem público não é bem de consumo, mas direito político pleno de acesso e usufruto. Entretanto, isso não significa que não se deva procurar eficiência e rentabilidade na economia do setor público. Tampouco, implica em abandonar pleitos por qualidade. Mas resulta em perceber que qualidade está subscrita ao direito de acesso e usufruto, e não à possibilidade de seu consumo.
Dois fatores incidem de maneira preponderante nessa equação: direito e tecnologia. Ou em outras palavras, a quem de direito o bem ou serviço público deve ser prioritariamente oferecido? Como isso deve ser feito? E qual o destino do benefício da operação? Fato é que o Estado é heterogêneo e multidimensional, e que não há estratégia passível de aplicação em todos seus setores. Outro fato importante é que sua capacidade de ação, reconhecidamente, apresenta limites.
A tecnologia e a manipulação da realidade
Atualmente, ao levarmos esse debate para o campo das cidades inteligentes, encontramos um cenário potencialmente sombrio. Cidades inteligentes são aglomerações urbanas que, por meio da tecnologia, colhem dados ambientais e sociais e oferecem serviços em função dos dados coletados. A rigor, coletam dados para melhorar a eficiência do emprego de recursos, promover o desenvolvimento sustentável e aperfeiçoar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Nessas cidades, a captura permanente de reações dos cidadãos gera padrões sucessivos de resposta social, os quais a cidade inteligente responde – ciclo contínuo – de modo dinâmico, sistêmico e adaptativo.
Ocorre que o mapeamento e a interpretação de padrões de resposta social sempre foram usados por firmas para influenciar o comportamento de consumidores. Por influenciar comportamento de consumidores, leia-se gerar impulso ou mesmo compulsão de compra
Além disso, as firmas de tecnologia têm aplicado esse pressuposto para promover seus negócios, mas com uma nova estratégia: têm oferecido recursos de economia do comportamento para desenhar estratégias de indução sistêmica de comportamento coletivo em larga escala com consequências inéditas sobre o estado de direito, a cultura e a ciência.
São novos paradigmas de marketing, casos amplamente publicados e conhecidos no meio científico e no mercado. Soshana Zubbof, advogada e professora de Harvard, denomina esse modelo de negócio baseado em vigilância, leitura e predição de comportamento, de capitalismo de vigilância.
A implementação de infraestrutura 5G e de sistemas de internet das coisas confere outro alcance a esse ferramental estratégico de negócio. Já se fala em governança preditiva, na qual massas de dados são interpretados por algoritmos de inteligência artificial que alocam recursos públicos em função dessas interpretações.
Nesse quadro, é difícil compreender e controlar até que ponto fenômenos urbanos têm origem no comportamento humano ou se são resultado de decisões dos próprios algoritmos. É o que se chama na ciência de problema teleológico. As consequências sociais de seu uso são reconhecidamente problemáticas, para dizer o mínimo.
Fato é que a infraestrutura das cidades inteligentes deverá ser implementada com a colaboração de entidades privadas, não cabendo ao Estado arcar com o desenvolvimento de tecnologias oferecidas em mercado.
Debates e normas técnicas sobre as cidades inteligentes
Debates em torno desse argumento têm estado presentes dentro da ISO TC 268, comunidade técnica internacional responsável pela elaboração de padrões e normas de qualidade para serviços e processos das cidades inteligentes. Endossadas por um processo de discussão de mais de três anos e que envolveu centenas de comunidades técnicas de mais de 160 países, as normas ISO 37101 e 37105 – a primeira já publicada no Brasil e a segunda em tradução, ambas pela ABNT – refletem a atual posição do campo técnico no que toca tanto a esse assunto.
A norma ISO 37101 aponta que sistemas de gestão para cidades inteligentes “(…) devem apoiar processos de planejamento, fortalecer comunidades e apresentar recursos de compartilhamento de benefícios mútuos, subsidiando a implementação de acordos e objetivos compartilhados, sem eximir cada um de suas responsabilidades (…) ”. A norma ISO 37105, por sua vez, vai mais longe, e diz que “cidades e comunidades são sistemas compostos por sistemas físicos e sociais, e suas interações, e sendo assim, orientam e são orientados, pelo comportamento humano”.
Parece ficção científica, mas, considerando a realidade que vivemos, são apontamentos que não podem passar despercebidos. E nesse caso, atender às normas ISO significa constituir e ampliar o que entendemos por governança compartilhada.
Conselhos, conferências e outros sistemas de participação são espaços em que cidadãos têm poder de incidir no desenho e no curso de políticas públicas, para além das eleições. Mas isso não é e nem será suficiente. Garantir cidadania frente à complexidade e o dinamismo dessas cidades-sistema implica em utilizarmos estruturas de participação.
A teoria por trás desse conceito vem de estudos como os de Scott Page e Helene Landemore, de Michigan e Yale, respectivamente. A explicação é simples: mais gente envolvida significa maior diversidade acumulada de experiências e, com mais experiência, se erra menos. O desafio é operacionalizar esse conceito.
Tecnologia não é sinônimo de cidadania
Esse é um campo em franco desenvolvimento. Há uma superabundância de tecnologias colaborativas investigando novos modos de apoio à decisão para as políticas públicas. Muitas delas valem-se de recursos de coleta, distribuição e consolidação de informações e dados equivalentes aqueles da infraestrutura das cidades inteligentes: interconectividade, participação distribuída, relacionamento 2 a 2 (peer to peer), tokenização e validação coletiva.
Somam-se a esses recursos outras características tais quais, dados abertos, transparência e sigilo. Não é necessário utilizar recursos digitais para implantar algo assim: há tecnologia social com essas características testada com votos, urnas e boletins, com muito sucesso aqui no Brasil pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – CEBRAP.
Aqui o cidadão não é um consumidor. É um agente ativo, conectado a outros cidadãos e a instituições de sua preferência. É dotado de recursos que o auxilia a compreender o mundo, a trocar informações e, sobretudo, a perceber de modo confiável a opinião de outros cidadãos, individual e coletivamente. Coletivamente irão apoiar a governança da cidade, alterar seu desenho e orientar a oferta e o suprimento flexível de bens, serviços, de infraestrutura, de espaços, e determinar seus usos, de modo permanente, adaptativo, resiliente, em constante transformação.
Recursos para isso já existem. Basta um olhar cuidadoso para os recursos ao seu alcance e imaginar como isso pode ser possível. E se olhar atentamente, vai ver que isso já ocorre, e que esse futuro está logo aí.
*André Leirner é arquiteto formado pela FAUUSP, possui pós-graduação pela AA DRL (distinção) e pela FGV EAESP. É pesquisador no NDAC CEBRAP e liason entre as comissões ISO TC 268 (cidades inteligentes sustentáveis) e 323 (economia circular) no Brasil. É professor convidado da Escola da Cidade e da Oficina Municipal e colaborador da Rede BrCidades
FONTE:CARTA CAPITAL
FOTO: ISTOCK